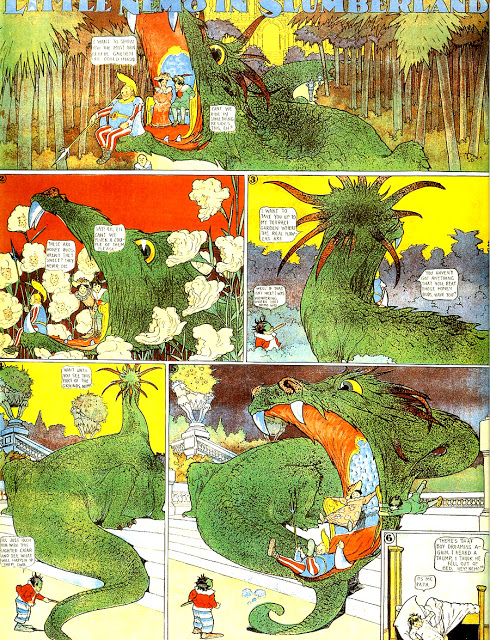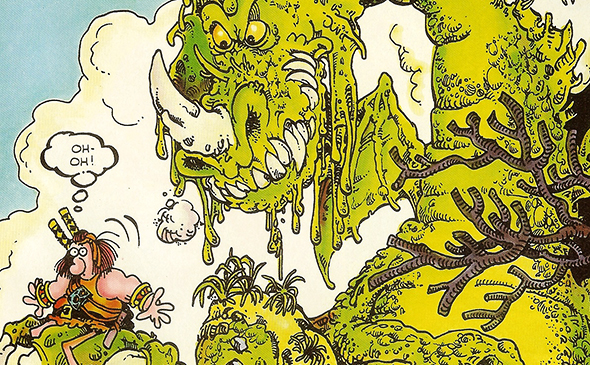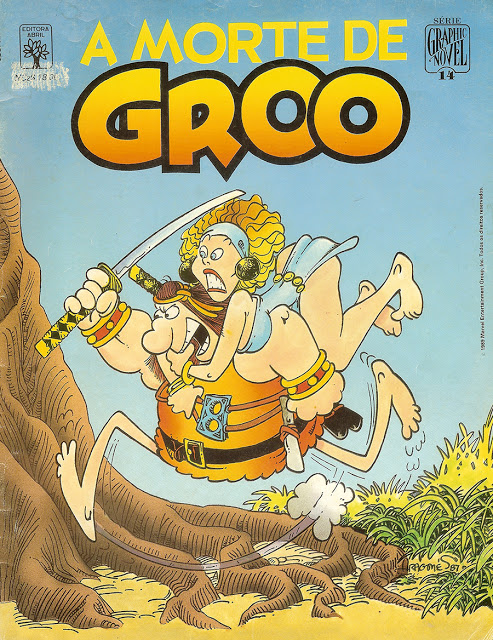Chico Mozart
A história em quadrinhos que ilustra este texto se chama
Os fabulosos X-Pué Inchados
(número 1) e foi realizada em 1994 por dois promissores caras que – pasmem! – não se tornaram quadrinistas. O primeiro deles é este que vos escreve. Desenhei mais de 200 revistas completas entre, sei lá, 1988 e 1997, e devo ter acumulado uns... talvez quatro leitores nesta época. Meu irmão mais novo lia os gibis coagido por puro constrangimento. Creio que nem meu pai e nem minha mãe jamais leram nenhuma dessas histórias. Tudo parte de um grande conceito chamado “universo Bilak”, que talvez algum dia mereça um texto à parte. Acho que eu ainda não sei bem processar o autismo que era escrever e desenhar várias revistas completas por mês, de maneira obsessiva, e receber virtualmente
nenhum
feedback. Mesmo assim, nos idos de 1994, nesta incrível idade que são os 12 anos (nesta época, tricolor paulista bicampeão mundial seguido. Puta era de ouro), chamei um grande amigo meu, que fora colega da Escola Classe na 308 Sul desde a 4ª série, para uma empreitada de parceria.
Se você é de Brasília e tem o mínimo de vida social, deve conhecer a figura que é Chico Mozart. Naqueles idos de 1994 (
Copa dos EUA
, e tal), era apenas Chiquinho. Hoje, Chico é formado
em Artes Plásticas
pela UnB e trabalha no meio, mas o lance que realmente define sua inserção nas personas interessantes da cultura brasiliense hoje em dia é ao mesmo tempo sua onipresença e sua volatilidade: Chico está em toda parte, mas, ao mesmo tempo, está flutuando em seu denso mundo interno, em lugar nenhum, bem diferente da imagem boêmia, sem-noção e beberrona (ele é tudo isso também) que todos cultivam dele.